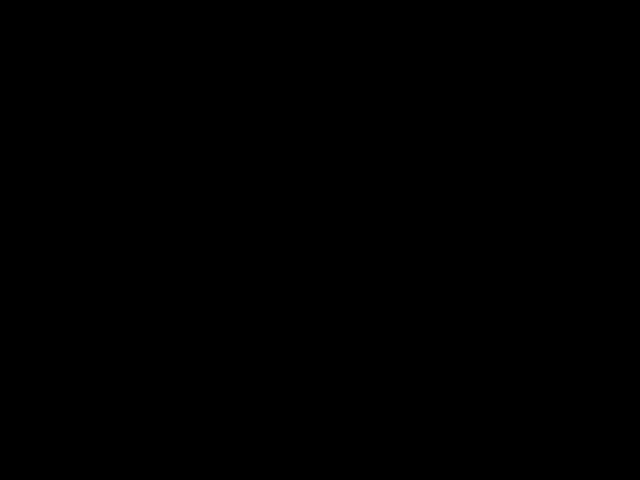Tenho que ir avisando. Não sou linguista, historiadora, nem estudiosa de absolutamente coisa nenhuma. Registo aqui meras impressões, que valem o que valem, as tais incursões de que fala o subtítulo do blogue.
Posto isto, penso poder começar.
Ensinar uma língua estrangeira pode (e deve) dar novas perspetivas sobre as coisas. Não olhamos para a língua como algo estanque, apanágio só de alguns - dos falantes nativos, neste caso - , como algo imutável, de raízes históricas e de propriedade exclusiva. Olhamos para ela sob uma perspetiva eminentemente prática.
Assim sendo, temos uma visão de como é aprender a língua pela primeira vez, as dificuldades que pode causar, e também o potencial que significa em termos de comunicação global. Não há nada de mal na comunicação global - a aproximação das pessoas e das culturas é cada vez mais fácil e frequente, devido aos avanços tecnológicos, e isto não é. de longe, negativo. Apesar dos problemas que possam surgir da mistura e da diversidade, os benefícios são sempre e sempre maiores. E isto é ponto assente para mim.
Todos os dias agradeço o facto da língua inglesa não possuir acentos - eu e os meus alunos, que é por causa deles que fico satisfeita com tal caraterística, sendo menos um obstáculo para a sua aprendizagem. Agradeço pela simplicidade da sua gramática, pela abertura em conter vocábulos de tantas diferentes origens, pela descontração que, os native speakers, ao que me parece, encaram a sua língua - ou melhor a língua que já não é só sua. Pois, como todos sabem, tornou-se, por vários fatores, uma língua de caráter universal (negócios, comércio, ciência, tecnologia, pesquisa...).
Onde quero eu chegar, afinal?
Num ponto controverso - o novo acordo ortográfico. Na recusa e repulsa que está a causar entre tanta gente. Numa espécie de guerra que se está a instalar - de um lado os defensores da língua portuguesa, do seu património, visto daqui, da perspetiva do berço da língua - do outro os "paladinos do acordo", os que atraiçoam a sua língua por ousarem concordar ou apenas seguir, o inevitável. Pessoalmente, não quero comprar esta guerra. Não faz parte das minhas inquietações, não perturba os meus valores (que, quero acreditar, são humanistas). E não me considero traidora porque estou a tentar escrever de acordo. Nem nada que se pareça.
Ao princípio, confesso, estive quase contra. Não queria ser incomodada nos meus hábitos com uma reaprendizagem. Disso dei conta aqui, num pequeníssimo post anterior. Como me custou tirar o C do título do blogue. Mas porque o tirei, então? Porque não? A dor inicial, neste caso, baseava-se apenas numa questão estética, porque funcionalmente nada seria afetado. Porque acabei por seguir de acordo? Bem, porque sou prática, porque na minha escola é um dado já adquirido e porque não vejo a língua portuguesa como só minha (porque se visse isto do ponto de vista estritamente pessoal, realmente era uma trabalheira, um esforço de adaptação). Vejo-a como de todos - dos que a falam, aqui, do outro lado do Atlântico, em África e no Oriente, mas também dos que a aprendem. Então, veja-se.
Não será mais fácil, funcional, eficaz para quem aprende português, ter muito menos acentos? Não ter consoantes mudas que, na verdade, não dizem nada? E outros pormenores que visam uma maior simplificação? Penso que sim. Não se está a olhar para o passado, para a história da língua, mas para o futuro. A aprendizagem da nossa língua será mais facilitada, tanto para as crianças que a aprenderão como para os estrangeiros que a quererão ou necessitarão de aprender. À semelhança do que se passa com o inglês, não me importaria nada que a minha língua fosse muito mais aprendida, e como a simplicidade ajudará nessa aprendizagem.
Pode, nesta altura, argumentar-se que o inglês respeita a diversidade no que diz respeito às suas variantes. Mas, de facto, as diferenças não são grandes, de todo. Elas situam-se essencialmente no vocabulário, algo próprio da distribuição geográfica ( e, está claro, nos sotaques), mas não tanto na grafia. Aqui, são poucas as variações. Quando ensino, tenho em conta a grafia norteamericana de algumas palavras e registo-as. Mas no essencial o inglês é bastante unificador. E assim deverá ser apreciado - como um todo.
Posto isto, conclui-se. Conclui-se que não gosto desta guerra, destes dois lados que se vêem como inimigos e, sobretudo, se me vêem como inimiga da minha própria língua. Não sou, obviamente. Apenas encaro isto tudo com descontração e otimismo para o futuro. Vejo, por defeito de profissão, a língua portuguesa como sendo de todos, de quem a queira aprender. A língua inglesa também é minha, quero pensar. As línguas existem para se poder comunicar, expressar ideias, trocar experiências, não para preservar qualquer tipo de ego nacional. Ter orgulho da própria cultura é fantástico, aprisionar essa cultura de forma possessiva e fechada, não me parece tão positivo.
Sei que é polémico. Sei que nada sei. Sei que isto é apenas uma impressão. Sei ainda pouco sobre o novo acordo. Sei que não estou em desacordo. Sei que alguns, muitos, não gostarão. Sei que tudo é relativo. Sei que gosto da minha língua. Sei que gosto de escrever, em português. Sei falar inglês. Sei que gosto que o inglês seja simples. Sei que gosto de comunicar. Sei que gosto de ler os outros, com ou sem acordo. Sei que não gosto de guerra. Sei que gosto do meu país, apesar de. Sei que gosto de viajar. Sei que gosto de evoluir. Sei que gosto de história. Sei que vivo no futuro, muitas vezes. (Há lá coisas muito interessantes.)
Siga.